 |
| Em sentido horário, os Hamlets de Olivier, Kenneth Branagh, Innokenti Smoktunovsky e Mel Gibson |
(Laurence Olivier, "On Acting", 1986)
A frase do grande mestre, maior ator shakespeariano do século XX, dita três anos antes de sua morte, é referente aos Hamlets que ele fez e viu no teatro, mas poderia muito bem se referir aos filmes feitos a partir da tragédia do príncipe dinamarquês. Dezenas de Hamlets cinematográficos foram produzidos desde a criação do veículo pelos irmãos Lumière, mas até o momento em que a frase foi posta no papel, o Hamlet filmado por Olivier em 1948 permanecia soberano entre as montagens da peça levadas ao celulóide. A guerra fria impediu que o cinema e posteriormente o mercado de vídeo dessem à aclamada e cultuada versão de Kozintsev, feita em 1964, a distribuição necessária e o filme russo ficou, até recentemente, quando foi finalmente lançado em DVD, restrito a cinéfilos, diretores de teatro e ratos de cinemateca.
A versão de Tony Richardson com Nicol Williamson no papel-título, lançada em 1969, foi meramente registro da produção teatral que ocorrera pouco antes e, como tal, não recebeu a atenção devida. Que eu saiba, não existe ainda nem em DVD. Somente em 1990, um ano após a morte de Olivier, com o mercado shakespeariano em alta graças ao Henrique V de Kenneth Branagh, Franco Zeffirelli realizou seu filme sobre a tragédia dinamarquesa com ninguém menos do que Mel Gibson como protagonista. E em 1996, depois de 12 anos de contato com a tragédia, uma vez como Laertes, uma vez como Hamlet no rádio e duas como o príncipe no teatro, Kenneth Branagh filmou seu Hamlet, na tentativa mais recente de se levar o texto ao cinema, descontando-se versões modernizadas ou alternativas.
Este artigo faz uma despretensiosa análise das versões de Olivier, Kozintsev, Zeffirelli e Branagh. A razão pela qual deixo de fora a versão de Tony Richardson é das mais lamentáveis: não encontrei uma cópia integral para poder assisti-la. Se conseguir em breve, faço uma parte II para o artigo, incluindo também alguns célebres Hamlets televisivos, como o de Derek Jacobi, ou filmagens da peça dentro do próprio teatro, como a de Richard Burton (que guarda a curiosa coincidência de trazer Eileen Herlie no papel de Gertrude, 16 anos depois de interpretá-la no filme de Olivier).
O Hamlet de
Laurence Olivier
Na juventude Olivier dizia para quem quisesse ouvir que “se gozasse da sorte de liderar uma temporada começaria por cima” (Confessions of an actor, 1982). Não é de surpreender, portanto, que quando se tornou um dos atores principais do Old Vic na temporada de 1936/1937, sob a direção de Tyrone Guthrie, o ator procurou incluir Hamlet no meio de outros grandes protagonistas shakespearianos que pretendia interpretar. Havia duas questões para resolver antes mesmo que os ensaios começassem, no fim de 36. Em primeiro lugar, Olivier ainda trazia entaladas na garganta as críticas horrendas que recebeu por sua dobradinha de Romeu e Mercúcio com John Gielgud, na produção do New Theatre encenada em outubro e novembro de 1935. Como se sabe, ambos tiveram basicamente a mesma formação teatral, mas enquanto Gielgud abraçou e alcançou excelência na forma lírica e cantada de recitar os pentâmetros de Shakespeare, Olivier tinha a ambição pública e notória de dar sentimento ao verso, quebrando os grilhões da métrica e imbuindo o personagem de naturalismo. “Achei seu primeiro Hamlet magnífico”, diria Olivier mais tarde, sobre o Hamlet feito por Gielgud em 1930, no Old Vic, “porque ele não se permitiu abusar da voz, cantando. Mas, à medida que o tempo foi passando, começou a cantar mais e mais. Lá pela quinta ou sexta apresentação, seu Hamlet me parecia uma ária”. (On Acting, 1986)
 |
| Martita Hunt (Gertrude) e o Hamlet de Gielgud em 1930 |
Ernest Jones
Olivier, Tony Guthrie e Peggy Ashcroft (que faria Ofélia mas acabou substituída por Cherry Cottrell na última hora) foram visitar Jones, empolgados com a possibilidade de encontrar novas facetas para os personagens da peça. O médico basicamente debitava todos os males do príncipe dinamarquês ao Complexo de Édipo e o encontro foi bem mais pitoresco do que se imagina. É o próprio Olivier quem o conta, no livro On Acting, de 1986:
À certa altura, comentando as concepções dos pintores primitivos a respeito de uma série de assuntos, o Dr. Jones falou de uma obra que lhe interessava especialmente do ponto de vista psicopatológico. Era a 'Concepção da Imaculada Virgem Maria', que mostra um anjo soprando o pólen de um lírio no ouvido da Virgem. “É claro”, disse ele, “que o buraco do ouvido também é um sinal de tendências perversas, talvez de natureza homossexual”. Surpreso, perguntei: “O buraco do ouvido?” Ele confirmou e, depois de instantes, concluiu bem baixinho (para que Peggy não ouvisse): “Qualquer buraco, menos o certo”. Achei isso muito engraçado e sempre que fazia Hamlet me lembrava da história, o pólen de um lírio entrando no ouvido, soprado por um anjo.
 |
| O diretor Tyrone Guthrie, chamado sempre pelo apelido de Tony |
O elenco era bom sem ser excepcional. Além de Olivier, a peça trazia o competente Francis Sullivan no papel de Cláudio, Cherry Cottrell, atriz de popularidade ascendente (Ofélia), Robert Newton (Horácio) e Torin Thatcher (fantasma), que teriam sólida carreira cinematográfica nas décadas de 40 e 50, George Howe, reprisando o Polônio que fizera com sucesso em 1934 no New Theatre, para um dos Hamlets de John Gielgud, e Dorothy Dix (Gertrude). Alguns nomes são curiosíssimos; o ator que interpretou a rainha na peça dentro da peça era Stuart Burge, mais tarde diretor do Othello cinematográfico de Olivier. Um jovem de 23 anos dobrava os papéis de Reinaldo e de Osric. Foi elogiadíssimo por ambos: Alec Guiness. E no papel de Laerte estava um ator charmoso e promissor, chamado Michael Redgrave. Aliás, vale o registro de que no fim da apresentação do dia 30 de janeiro de 1937, Olivier foi ao proscênio e anunciou: “Sras. e Srs., hoje Laerte se tornou pai”. Referia-se ao nascimento de Vanessa, a primeira filha de Michael. Olivier e Michael se tornaram amigos e colegas por toda vida e não apenas Vanessa Redgrave nasceu durante a temporada de Hamlet, mas teve um de seus primeiros papéis no teatro profissional interpretando Valéria, para o Coriolano de Olivier, em 1959.
 |
| Michael Redgrave e Alec Guinness |
O risco também era grande demais e não foi daquela vez que os críticos o compreenderam. “Excêntrico, multiforme, sangüíneo, pulando para dentro e para fora de cada humor, alternando depressão e hilariedade maníaca dentro de uma mesma frase, interpretando um novo papel a cada minuto consigo mesmo como público” foi a maneira que o descreveu o New Statesman, talvez o único órgão de imprensa que o elogiou. Para o jornal, essa “desintegração” do Hamlet de Olivier, que para alguns pecava pela “ausência de uma concepção intelectual” era o que dava, paradoxalmente, “superioridade” à sua interpretação. Os elogios pararam por aí. Outros jornais falaram que seu Hamlet era inteiramente desprovido de “melancolia ou vacilação”, que lhe faltava “a sabedoria, e a tristeza e pathos aos quais a sabedoria o condena”, que ele não era um “atormentado até o fundo de sua alma”, que não parecia “possuído pelo horror depois de ser informado da morte de seu pai”, e assim por diante. Quem lhe jogou a pá de cal foi o velho James Agate (1877/1947).
Cherry Cottrell e Olivier
Daí a crítica seguia, ladeira abaixo. Agate condena Olivier por maneirismos que herdou de papéis modernos como Beau Geste (fracasso de crítica protagonizado pelo ator em 1929), afirma que ele falhara imperdoavelmente na cena dos atores, na cena do get thee to a nunnery, no assassinato de Polônio e que faltou humor na cena com Osric. “Para concluir esta fábula de culpa”, escreveu o crítico, confirmando o que dissera Guthrie no camarim, “o Sr. Olivier não fala mal a poesia. Ele simplesmente não a fala”. E sua birra não era só com Olivier. “O rei será melhor quando o Sr. Francis Sullivan interpretá-lo fora de seu roupão, e não dentro dele, e a rainha da Srta. Dorothy Dix dá a impressão de não estar sequer na peça, mas de dar uma olhada de vez em quando para atuar um pouco. Como Ofélia a Srta. Cherry Cottrell me parece não estar madura”. Torin Thatcher, para Agate, “faz um fantasma inaudível” e o Horácio de Robert Newton “ne fera pas, já que não serve soa grosseiro”. O fim da crítica é quase humilhante: “Muito poderia ser dito sobre esta produção altamente imaginativa do Sr. Tyrone Guthrie, mas não, creio eu, na guimba deste artigo”.
Vaidoso como era, Olivier não deve ter gostado nada dos comentários de Agate e de outros críticos que chutaram seu Hamlet. Mas ele já descobrira o mais infalível antídoto psicológico para as críticas: o sucesso de público. “Deviam pensar que eu estava bem louco naquela época, mas também não deviam me achar de todo mau, pois não deixaram de me oferecer empregos nem o público deixou de me prestigiar”. No cômputo geral, eis o que Olivier pensou de tudo isso, até aquele momento:
“Independentemente do que as pessoas acharam do meu Hamlet, não deve ter sido ruim. Sei que não foi a perfeição, mas era meu. Eu é que fiz. Era meu”. (On Acting, 1986) Hoje podemos imaginar a sensação de vitória que imbuiu o Old Vic e Olivier, pessoalmente, quando, finda a temporada de dois meses, eles todos foram convidados pela Câmara Dinamarquesa de Turismo para celebrar o jubileu de prata do Rei Cristiano X (1870/1947) com seis apresentações de Hamlet no Castelo de Kronborg, em Helsingør, ou Elsinore, lugar escolhido por Shakespeare para ambientar a tragédia de Hamlet.
O texto original de Saxo Grammaticus
Foi uma liberdade poética do bardo. A lenda de “Amleth” (em latim) ou “Amled” (em dinamarquês), contada por Saxo Grammaticus (ca. 1150/1220) no terceiro dos dezesseis volumes de seu Gesta Danorum, localiza-o provavelmente no século IV e ele é intitulado príncipe da Jutlândia (Jylland), um dos reinos da Europa setentrional que junto à Zelândia (Sjælland) e à Scânia (Skåme) – este último perdido para a Suécia no fim do século XVII – formaram no século IX o que se convencionou chamar então de “reino da Dinamarca”. Já o castelo de Kronborg, originalmente uma fortaleza militar de nome Krogen, localiza-se em Elsinore, no que costumava ser o reino da Zelândia, e só foi construído no início século XV e transformado em monumental castelo renascentista com o atual nome em 1585, época em que Shakespeare deve ter tomado conhecimento de sua existência. Kronborg e Elsinore (cidade vizinha a Copenhague), portanto, são adaptações livres de Shakespeare, ou talvez venham do Ur-Hamlet de Thomas Kidd. E assim como a Itália, que demorou quase dois séculos para descobrir que o dramaturgo inglês ambientara por lá grande parte de suas peças, a Dinamarca só foi saber do Hamlet de Shakespeare quando chegou ao país a tradução alemã de Christoph Martin Wieland (1733/1813), Shakespear Theatralische Werke aus dem Englischen übersetzt (Zurique, 1766).
 |
| O Castelo de Kronborg |
Olivier com Jill Esmond (acima)
e Vivien Leigh
A estréia de Vivien Leigh (1913/1967) no West End de Londres foi com a peça The Mask of Virtue, de Carl Sternheim, em 1935. De uma beleza avassaladora, além de conquistar crítica e público, ela conquistou o coração de um ator que assistiu uma das apresentações: Laurence Olivier. Sendo ambos atores, não foi difícil que se encontrassem pelos bastidores ou reuniões teatrais de Londres, e os dois se apaixonaram violentamente. Esse seria o início de uma belíssima história de amor, não fosse por um inconveniente perfeitamente desagradável: ambos eram casados. Olivier se casara com a atriz Jill Esmond (1908/1990) em 1930 e Vivien casou-se em 1932 com Herbert Leigh Holman, que nada tinha a ver com teatro e não alimentava maior carinho pela profissão da esposa. Esmond e Holman negaram-se a conceder o divórcio quando souberam do affair de seus cônjuges. No caso de Holman, era mais por preguiça do que por qualquer outra razão, mas com Jill Esmond o buraco era mais embaixo. Quando se casaram, era ela que tinha uma carreira ascendente e declinou grandes ofertas de trabalho para poder acompanhar o marido, que batalhava pelo seu lugar no meio artístico. Agora a situação se invertera e era a estrela de Olivier que brilhava, enquanto a atriz sumia das listas de elenco em Hollywood e do West End. Para Esmond era particularmente difícil ver o marido, por quem ela tanto lutou, enfeitiçado por Vivien. Suzanne, a filha de Vivien e Holman, nasceu em 1933, mas Tarquin, filho de Olivier e Jill, nascera em agosto de 1936, portanto em pleno caso adulterino de seu pai. Talvez uma tentativa (malfadada) de ressuscitar o casamento. Não havia o que fazer. Esmond estava para Leigh assim como Jennifer Aniston está para Angelina Jolie: chega a ser covardia compará-las.
 |
| Olivier e Vivien Leigh |
Olivier e Vivien em Elsinore
Como o cancelamento da peça estava fora de cogitação, partiu-se para o improviso. Hamlet seria todo encenado no grande salão de baile do próprio Marienlyst. Uma verdadeira operação de guerra foi montada para que o salão pudesse abrigar 900 pessoas sentadas – dezenas das quais, pertencentes à realeza escandinava – os cenários improvisados e todo o elenco. Guthrie e Olivier se desdobraram em quinze mas cuidaram da logística do novo espetáculo. No fim o resultado foi extraordinário. Alec Guinness, que além de Reinaldo e Osric ainda teve que acrescentar o papel da atriz que interpretava a rainha na peça dentro da peça, afirmou, em suas Memórias: “Foi a experiência teatral mais excitante que a maioria de nós já teve. Havia uma energia, um espírito de companheirismo e uma sensação de vitória bastante extraordinários. (...) Tony Guthrie ficou mais do que satisfeito; seus olhos estavam mais brilhantes que nunca – desconfio que algum schnapps também haviam sido emborcados por ele” (Blessings in Desguise, 1985). Guinness se referia a um conhaque que ele bebeu generosamente em seus intervalos, e que tornaram seu Osric extremamente mais risonho do que de costume.
Se a imprensa inglesa fôra refratária ao Hamlet do Old Vic, o contrário ocorreu com os críticos dinamarqueses. Os comentários foram unânimes, “uma das noites mais empolgantes de que consigo lembrar”, “o mais notável exemplo de técnica reagindo à emergência repentina. (...) Foi a performance de uma vida, tão nova, surpreendente e excitante”, e assim por diante. Nas cinco apresentações que se seguiram, o tom foi o mesmo: “Se a noite no Marienlyst foi uma experiência de natureza incomum e não-convencional, que não deverá se repetir, as performances em Kronborg não foram menos únicas em sua perfeição e harmoniosa integralidade”. Tony Guthrie não aceitou o elogio e comentou, anos depois, que o resto da mini-temporada foi insignificante, comparado à estréia. Talvez tenha razão, eis que seria difícil reprisar a mesma empolgação apavorante e catártica do dia 2 de junho. Mas também pode ser que Guthrie tenha guardado na garganta o espinho que foi a escalação extemporânea de Vivien Leigh e descontou seu ressentimento na temporada. No terreno da curiosidade, Barry Gaines comenta que o “teatro de arena” (theatre in the round), expressão que ainda não existia na época, parece ter surgido naquela noite, que ele chama de “a performance única de Hamlet que mudou a história do teatro”.
Acho que uma das minhas melhores atuações foi em Elsinore, na Dinamarca. (...) Naquela noite, em Elsinore, os atores foram todos heróis, sem nenhuma exceção. Eu sei – estava bem no centro de tudo. Conseguimos uma atmosfera de dignidade e excitação na qual ninguém cai de quatro, a menos que esteja no programa. Todos se emocionam com a sensação de estar realizando algo importante – e com toda razão. A síndrome de grupo, um por todos. Acima de tudo, o espetáculo foi espontâneo. (...) Essa é uma grande noite para se recordar, repleta de magia e lembranças. Há quem diga que foi a melhor coisa que já viram. Se foi ou não, eu nunca saberei, mas deve ter sido muito especial. Chovia e, por isso, os deuses vieram em nosso auxílio. Acho que sempre vêm, se forem tratados com respeito. (On Acting, 1986)
 |
| O Hamlet de John Gielgud em Kronborg, 1939 |
De volta à Inglaterra, Olivier e Vivien foram morar juntos, seus cônjuges eventualmente lhes deram os respectivos divórcios e em 1940 eles se casaram. Vivien explodiu com E o Vento Levou, ambos tornaram-se o casal mais famoso e adorado do país e o resto é história.
Olivier não era um estranho a Shakespeare na telona. Estreou com Orlando na pioneira direção de Paul Czinner para As You Like It, em 1936, aprendera a fazer cinema com William Wyler em Wuthering Heights, de 1938 e vinha do sucesso maciço de Henrique V, que maravilhou as platéias inglesas a partir de dezembro de 1944, em plena segunda guerra. O filme, dirigido e protagonizado pelo ator, trazia uma parte do que seria sua patota de colegas em projetos posteriores, “uma alegre irmandade contagiada por meu entusiasmo”, como diria o próprio Olivier. Alguns vinham do Old Vic, como Robert Newton, Harcourt Williams, Leo Genn e Russell Thorndike (irmão de Sybil Thorndike). Outros vinham de trabalhos anteriores no cinema, como Felix Aylmer (presente no elenco de As You Like It, onde provavelmente se conheceram), e outros, ainda, como Esmond Knight, que o acompanhariam sempre. Foi, porém, na parte técnica que seus aliados fizeram a diferença. Já no Henrique V estavam lá os diretores de arte e figurinistas Roger Furse (1903/1972) e Carmen Dillon (1908/2000), o compositor William Walton (1902/1983) e o produtor italiano Filippo Del Giudice (1892/1963). Em Hamlet eles receberiam a valiosa adição do iluminador Desmond Dickinson (1902/1986), “um gênio”, segundo Olivier. O projeto seguinte idealizado pelo ator e agora diretor, sem maiores hesitações, seria montar Hamlet no cinema.
 |
| O Henrique V de Olivier no cinema |
 |
| Ray Milland entrega a Olivier o Oscar honorário por Henrique V no set de Hamlet. Entre os dois, de cavanhaque, está Roger Furse |
 |
| A solidão de Hamlet em Elsionore: salões amplos... |
 |
| ... e labirínticos |
Antes de comentar o filme, liquidemos de uma vez aquele que é o maior defeito da produção: os cortes absurdos feitos por Olivier ao texto. Ele cortara dezenas de versos de Henrique V para tornar o filme o mais palatável possível ao público não afeito ao bardo, seja no cinema ou no teatro, e em larga medida podemos dizer que foi bem sucedido. Só que Henrique V não é Hamlet, e quando cortes são feitos nessa peça – a mais famosa da dramaturgia inglesa, e quiçá, do mundo – especialmente cortes gigantes, como os realizados por Olivier, o público tende a se ressentir. Praticamente todos os monólogos foram reduzidos e outros inteiramente cortados. A companhia que visita Elsinore entra muda e sai calada, pois o monólogo de Pirro foi cortado e a cena do Assassinato de Gonzago é feita em mímica. A cena é belíssima, como se comentará daqui a pouco, mas poderia ter sido ainda melhor e alcançado efeito bem superior ao da versão de Kozintsev, que não cortou essas falas e no entanto não contava com um elenco tão excelente quanto o inglês. Fortinbrás e todo o conteúdo chamado “político” (tremendo exagero) foi cortado. Há apenas um coveiro, o brilhantíssimo Stanley Holloway, cenas são fundidas e algumas falas de Rosencrantz e Guildenstern, cortados sumariamente, acabam na boca de Polônio. Há quem simplesmente não perdoe Olivier pelo corte dos dois colegas apatetados de Hamlet, chamados por Cláudio para espioná-lo. Eu, por outro lado, não sentiria falta dos dois se Olivier tivesse ao menos aumentado seus próprio monólogos, ou a cena dos atores. Curioso que com tudo isso, o filme ainda tem 2 horas e 40 minutos.
Em sentido horário, Basil Sidney, Eileen Herlie, Felix Aylmer
e Jean Simmons
O elenco está acima da média. O Cláudio de Brasil Sidney agrada por diversas razões mas o que chama a atenção é que ele tem uma dicção às vezes um pouco pastosa que ao invés de atrapalhar, ajuda o personagem, tornando-o ainda mais desprezível e fazendo-o parecer sempre um pouco embriagado, sobretudo na cena do casamento. Quando levanta e anda em direção a Hamlet, consolando-o com falsidade, é um perfeito bêbado fanfarrão. Eileen Herlie foi uma Gertrude razoável, mas sucumbiu à maluquice que Olivier ainda alimentava em relação às teorias de Ernest Jones, transformando a cena da alcova em algo mais lúbrico do que dramático. Além disso, Herlie tinha treze anos a menos do que Olivier, o que transforma em um exercício de imaginação pensar nela como mãe daquele Hamlet.
Os beijos nada maternais entre Hamlet (Olivier)
e Gertrude (Eileen Herlie)
Por fim, nunca compreendi de onde vem essa noção de Olivier, de que a rainha descobre o ardil do rei e resolve tomar o vinho envenenado de propósito. Acredito que Hamlet e Gertrude fizeram as pazes na cena da alcova, a rainha passou a evitar qualquer contato físico mais ousado com o rei e que dali em diante ela e o filho voltariam a ter uma vida harmoniosa, não havendo razão para que ela se suicidasse.
Jean Simmons não tinha nem 17 anos e fez uma Ofélia competente, graças à alta expressividade de seu rosto. Está muito bem tanto na cena do get the to a nunnery quanto na cena de seu afogamento, filmada com rara beleza por Olivier. Felix Aylmer faz um Polônio idoso (talvez até demais), no limiar entre o avô bonachão e o velho intrometido. Equilibra-se entre seu próprio papel e os restos mortais de Rosencrantz e Guildenstern que lhe caíram às mãos, e faz tudo com o talento que sempre o caracterizou.
Em sentido horário: Norman Wooland, Anthony Quayle, Terence Morgan e Esmond Knight
Norman Wooland não brilha como Horácio e Terence Morgan é um Laerte canastrão. Não se explica o porquê de Olivier escalar alguém tão limitado para um dos papéis principais, e dois atores tão competentes como Anthony Quayle (Marcellus) e Esmond Knight (Bernardo) para papéis considerados menores. Quayle trabalhara com Olivier por toda aquela célebre temporada do Old Vic, em 1937, e seguiria trabalhando com ele ainda por muitos anos, mesmo quando já fosse, ele próprio, um protagonista. Quanto a Esmond, era ator desde os anos 20 e perdeu um olho na II Guerra, o que não o impediu de continuar na profissão, trabalhando ininterruptamente até sua morte, em 1987. As tomadas de Esmond são feitas sob medida para esconder seu olho esquerdo, que era de vidro. Um de seus últimos trabalhos foi justamente no Lear de Olivier, em 1983, interpretando o criado de Gloucester.
 |
| O young Osric de Peter Cushing |
Ressalte-se também que Olivier passou por cima de seu “afetuoso desprezo” por John Gielgud, e depois de preteri-lo no papel de côro em seu Henrique V, que coube a Leslie Banks (atitude que Gielgud debitou ao medo que Olivier tinha de ser ofuscado pela conhecida capacidade do colega de dizer os versos do bardo), convidou-o para o papel do fantasma. Aliás, se formos levar em conta a opinião de Gielgud – que é provável, mas vem eivada do narcisismo patológico do ator – o papel de fantasma era um convite perfeito para a insegurança de Olivier, porque não mostrava a cara e mantinha a voz em tom constante de confidência.
O espectro do pai de Hamlet, cuja
voz é de John Gielgud
Seja como for, toda a primeira parte do filme vem cheia de elementos cinematográficos que provaram ser Olivier um diretor de proa. Ele inventou o discurso indireto, que começa na cena do casamento e segue por todo o filme, copiado ad eternum, e incorporou uma invenção de Jean Louis Barrault, cujo Hamlet assistiu em Paris no início de 47, com tradução de André Gide: o som das batidas do coração cada vez que aparecia o espectro, sacada sensacional que tem um efeito verdadeiramente avassalador na telona, por conta do vai e vem frenético da câmera ao ritmo das batidas. Para tanto, diz Olivier, o produtor teve que pagar 500 libras a Barrault. A visão do fantasma é embaçada e nota-se barba sob a viseira, mas ele parece ser um espectro, mesmo.
Hamlet: "Go on.
I'll follow thee".
Outra grande sacada foi a visão do envenenamento de seu pai sendo conduzida quase como uma experiência parapsicológica: Hamlet tampou os olhos com uma das mãos, estendeu a outra ao fantasma e viu uma tela incorpórea abrir-se em sua frente com a imagem do que havia ocorrido. Dali por diante imagina-se que o esporro de James Agate tenha queimado Olivier por dentro, porque do Hamlet frenético e sangüíneo de antes restou um príncipe soturno, meditabundo, e que de fato só explode quando há ensejo para tanto. Duas cenas, em particular, são memoráveis nesse sentido.
São as cenas do get thee to a nunnery, que se nota ter sido cuidadosamente coreografada e estudada para que os altos e baixos tivessem seu momento exato, e a do Assassinato de Gonzago, que compensa em parte, na grandiosidade do cenário, o naco de texto que foi suprimido. O prólogo é a única fala de toda peça dentro da peça, já que o resto é encenado como uma pantomima. A câmera vai e volta lentamente de uma extremidade à outra, captando inteligentemente as reações tanto de Hamlet e Ofélia, quanto de Horácio, Polônio, Gertrude e Cláudio, enquanto mostra a ação da peça nas frestas entre um e outro. Olivier cortou o frighted with false fire mas criou um ápice fantástico: quando Cláudio se levanta, aturdido, cobre os olhos e grita give some light, a câmera focaliza e acompanha uma tocha acesa que é levada rapidamente ao rei – tudo ao som da música certeira de William Walton – e posta de propósito muito perto de seu rosto, não para iluminá-lo mas para assustá-lo. Cláudio então descobre os olhos vê que quem a carregava era Hamlet, afasta-a com o braço gritando away e sai correndo, ao que Hamlet coroa o momento de tensão com uma gargalhada debochada e a cantoria quase incoerente de Why, let the strucken deer go weep, the hart ungalled play; For some must watch, while some must sleep: so runs the world away. É perfeito.
 |
| O belo teatro dentro de Elsinore, no Hamlet de Olivier |
 |
| "Then, venom, to thy work". |
O Hamlet de Olivier não envelheceu tão bem quanto seu Henrique. Hoje acredito que para os jovens seja mais fácil assistir um Hamlet moderno, como o de Ethan Hawke, ou no máximo o de Mel Gibson. O grande interesse pelo Hamlet de 1948 está mais entre os amantes de Shakespeare, os admiradores de Olivier e nos cinéfilos. Mas nunca se poderá negar que esse filme é a fôrma da qual vieram todos os Hamlets cinematográficos seguintes, por mais diferentes que sejam, e que a performance de Olivier permanece ainda hoje, 62 anos depois, como a melhor de todas.
A última associação de Olivier com o príncipe dinamarquês: dirigir o Hamlet
de Peter O'Toole, em 1963
de Peter O'Toole, em 1963
O filme foi um sucesso absoluto de crítica e de público. A academia não teve mais como postergar a consagração de Olivier. Hamlet foi indicado a sete Oscars: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante (Jean Simmons), Melhor Figurino (Roger Furse), Melhor Direção de Arte (Roger Furse, Carmen Dillon) e Melhor Música (William Walton). O produtor Arthur Rank levou a estatueta pelo Melhor Filme, Olivier ganhou Melhor Ator, e Roger Furse ganhou Figurino e Direção de Arte, dividindo este último com Carmen Dillon. O próximo contato que Olivier teria com Hamlet – seu último – seria na temporada de 1963/64, dirigindo o jovem Peter O’Toole no papel-título, para o National Theater, que estava sob o controle do próprio Olivier.
 |
| Capa da "Theatre World" de 1963 anunciando o Hamlet dirigido por Olivier, com Peter O'Toole, e Rosemary Harris no papel de Ofelia |
Grigori Kozintsev (1905/1973) dirigiu seu primeiro Hamlet em 1941, na antiga Leningrado. Voltou ao texto em 1954, finda a facinorosa era Stalin, na mesma cidade, utilizando a tradução de seu amigo e colega Boris Pasternak. Dez anos depois ele montou seu Гамлет (que se pronuncia "Gamlet") no cinema. Em um dos livros que publicou, seja de memórias ou falando de Shakespeare, Kozintsev condenou o fato de Olivier ter cortado integralmente o papel de Fortinbrás, porque este representaria, como disse há pouco, o conteúdo “político” da peça. Com o mais profundo respeito ao russo, acho isso um exagero, de vez que a peça trata dos desdobramentos psicológicos, emocionais, sentimentais e familiares de um assassinato, e não sua repercussão social, sociológica ou histórica, a menos que comecemos a discutir “governos que desmoronam pela corrupção moral de seus líderes”, o que, francamente, não é o caso. Falas de Hamlet, especificamente this heavy-headed revel east and west makes us traduced and tax'd of other nations: they clepe us drunkards, and with swinish phrase soil our addition; and indeed it takes from our achievements, though perform'd at height, the pith and marrow of our attribute, são meras descrições dentro daquilo que deve ser realmente notado, ou seja, a revolta de Hamlet por ver guindado à posição de rei alguém tão menos preparado ou virtuoso que seu pai. Não vejo o mais ínfimo subtexto político.
Grigori Kozintsev
Entretanto, compreendo que essa idéia estivesse na mente de Kozintsev, como esteve na mente de qualquer artista que tentou trabalhar na URSS e viu seu impulso criativo tolhido pelo stalinismo. Mesmo assim, atenho-me aqui à obra no que tange a Shakespeare e deixo de lado comentários de ordem política. Aliás, a ausência de Fortinbrás pode ter decepcionado Kozintsev, mas não apagou a imensa influência que o filme de Olivier teve sobre o seu. Na aparência exterior do castelo, na peruca loira usada por Innokenti Smoktunovsky, na iluminação, no mar revolto como coadjuvante do to be or not to be – que também é dado em linguagem indireta – no quarto de Ofélia que parece uma casa de bonecas e assim por diante. Mas isso é apenas influência. Kozintsev realizou um trabalho autoral estupendo, riquíssimo, que pode não superar o trabalho de Olivier em termos de interpretação ou de compreensão do texto, mas o supera ligeiramente – o russo já era cineasta há quase 20 anos quando fez seu Hamlet – no quesito cinematográfico. Por sinal, como já se viu no artigo que trata do Lear de Kozintsev, sua maior qualidade está no momento em que cria junto ao texto shakespeariano.
O ator Innokenti Smoktunovski,
o Hamlet de Kozintsev
O filme – cujas externas foram filmadas no Forte de Ivangorod, na Estônia – começa com Hamlet voltando a cavalo para Elsinore, avisado de que o pai morreu. Corta-se toda a primeira aparição do fantasma e pula-se direto para o casamento, onde a magia de Kozintsev aparece imediatamente: o discurso de Cláudio (ato I, cena II) é feito por um soldado do lado de fora do palácio, rodeado do povo mais humilde – figurantes obrigatórios nos filmes do russo – como se lesse um edito real avisando que o rei estava se casando. Corte seco para dentro do palácio e o discurso continua, só que desta vez nas confidências trocadas por embaixadores estrangeiros em diversas línguas. Uma idéia fabulosa que dinamiza a ação.
"O, that this too too solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew!"
O discurso só é assumido pelo próprio Cláudio (Mikhail Nazvanov), na metade, já dentro de um gabinete discreto, com poucos auxiliares e Hamlet no canto. Quando este sai sem ser percebido temos mais uma inovação do diretor; enquanto Olivier preferiu deixar Hamlet sozinho no salão gigante e obscuro, Kozintsev jogou Innokenti Smoktunovsky no meio do salão, e criou um ótimo contraste entre a infelicidade reflexiva e silenciosa de Hamlet, que não diz nada mas pensa o monólogo do O, that this too too solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew!, e a alegria festiva dos convidados, que não se abalam e não abalam o príncipe.
A Ofélia de Anastasiya Vertinskaya
Anastasiya Vertinskaya é uma Ofélia linda e mostrada em toda sua pureza e obediência desde a primeira cena, em que dança ao som de um cravo, exatamente como se fosse dançarina de uma caixa de música. Interessante que seu cabelo pintado de loiro destoa do rosto oriental da atriz, que não obstante é moscovita. A esta altura os cortes imensos de Kozintsev começam a incomodar. Ele adaptou a peça e talvez tenha sido tudo uma questão de acomodar o filme a um orçamento, mas sem ter cortado nenhum personagem de alguma relevância, ele conseguiu enxugar o texto ainda mais do que Olivier. Com uma diferença a seu favor: Dimitri Shostakovich. A música do compositor não é melhor que a de William Walton, mas complementa o texto – e sobretudo a falta de texto – com perfeição.
A magnífica aparição do fantasma e seus olhos aterradores sob a viseira
estilizada e original
Antes da segunda aparição do fantasma, por exemplo, Hamlet, Horácio e os soldados não trocam sequer uma palavra. Porém, quando o fantasma aparece a música de Shostakovich é tão contundente que o corte dos diálogos é esquecido por alguns segundos. É uma cena belíssima. Do fantasma esfumaçado de Olivier passamos à visão de uma silhueta nítida e majestosa, com sua capa sendo levemente sacudida pelo vento.
Cortou-se infelizmente o apelo de Hamlet (king, father, royal dane) e no fim da conversa dá-se um close no velho rei morto; além de uma viseira impressionante que traz em relevo os traços de um rosto, por um momento vemos seus olhos, que trazem a mais dolorosa expressão de tristeza. Seria uma preciosidade, se toda a cena seguinte, do juramento, não tivesse sido cortada; um grande erro de Kozintsev, porque é na conversa com Horácio e com os soldados que Hamlet revela seu plano de se fingir de louco.
Interpolação exemplar de texto: Hamlet pensa seu monólogo enquanto o ator da companhia fala com emoção de Hécuba
Nessa alternância de momentos geniais com os cortes mais impiedosos, chegamos aos atores que visitam Elsinore. É feita uma das interpolações de texto mais brilhantes de todos os tempos, quando o monólogo do what a rogue and peasant slave am I é pensado por Hamlet durante o discurso do ator da companhia sobre Hécuba. A câmera passeia pelo príncipe e pela companhia, toda ao ar livre, e ele analisa a tibieza de seu comportamento enquanto bate compassadamente sobre um tambor (artifício que Alec Guinness aparentemente já usara em seu Hamlet prematuro no Old Vic, em 1938). Os exemplos continuam por toda a seqüência: a briga de Hamlet com Ofélia omite o I’ve heard of your paintings well enough too, o discurso aos atores é quase tão sem vida quanto aquele dado por Olivier, e o nível só atinge as alturas quando a peça é apresentada em um teatro espetacular montado do lado de fora do castelo.
 |
| O teatro a céu aberto de Kozintsev |
Cláudio levanta-se no momento do clímax e depois de uma pausa ele aplaude, desorientado, e só então pede as luzes e sai gritando como um alucinado pelo castelo. Só que aí corta-se não apenas o diálogo cômico de Hamlet e Polônio sobre a nuvem, como a cena em que o príncipe quase mata o rei, enquanto este tenta rezar.
"Look here, upon this picture, and on this, the counterfeit presentment of two brothers. See, what a grace was seated on this brow; Hyperion's curls; the front of Jove himself"
Depois de matar Polônio, Hamlet não investe contra a mãe com fúria escandalosa, como geralmente se mostra. Em solução inspirada que valoriza a contenção, Hamlet arranca de Polônio o colar que leva o retrato do rei e o joga no chão, na frente da mãe. Ajoelha-se, então, calmamente, e mostra seu próprio colar com a foto do pai e procura tocar a consciência da mãe através das imagens, simplesmente, sem gritar, mas de forma comovente e sentida. Só aí se permite levantar o tom de voz e aludir ao king of shreds and patches, que é quando começa a enforcar a mãe no chão do quarto. Mais uma vez temos a substituição de falas ou imagens por música: ao invés do fantasma entrar pela terceira vez para wet thy blunted purpose, a música de Shostakovich vai ao máximo da dramaticidade e o close em Hamlet, junto à sua expressão de choque, são tudo o que se vê da nova aparição. Lamenta-se o corte do texto, mas louva-se como criação cinematográfica, porque mantém fresca na memória a imagem aterradora do fantasma em sua aparição única no filme de Kozintsev.
Kozintsev cria uma cena para a troca das cartas a bordo do navio
que vai para a Inglaterra
que vai para a Inglaterra
Da segunda parte para o fim, vemos a encenação parcial daquilo que ocorre a Hamlet depois de seu exílio. Olivier mostrou rapidamente sua defecção para o navio pirata; o russo preferiu criar uma cena em que Hamlet rouba as cartas de Rosencrantz e Guildenstern enquanto eles dormem, e as troca por cartas que ele próprio escreveu, solicitando ao rei da Inglaterra a morte dos dois. Cena que Zeffirelli, aliás, optou por copiar do russo, e não de Olivier.
Ofélia tem por fim o destaque que merece. Suas cenas a partir da loucura são verdadeiras pérolas, começando pelas criadas velhas e amarfanhadas que a vestem com seu traje de luto, mas não sem antes torturá-la com a colocação de um arcaico espartilho de ferro.
O toque de gênio é dado com o véu negro enorme que cobre quase todo seu corpo, e faz com que ela mantenha as mãos constantemente erguidas, como se tentasse escapar da bolha onde foi condenada a passar seus dias. Sua loucura é calma e meiga como ela própria; não precisa da expressão lunática de Jean Simmons, os olhos psicóticos de Helena Bonham Carter ou a gritaria histérica de Kate Winslet. Kozintsev foi esperto em misturar o exército arrebanhado por Laerte e torná-lo coadjuvante da cena. Basta que Ofélia entre, dizendo suas maluquices e cantando suas musiquinhas em meio àquele monte de gente para que o efeito dramático seja imenso. Outra maravilha foi vê-la agachando-se em frente a uma fogueira e catando um punhado de gravetos, que distribui como flores. E a tomada de sua saída, subindo uma escada, filmada por cima, e mostrando-a sem juízo, observada por dezenas de pessoas, é de arrepiar.
 |
| A extraordinária cena da loucura de Ofélia, um dos pontos mais altos do filme de Kozintsev |
Influência direta de Olivier
em diversas cenas
Também de arrepiar é a tomada de seu cadáver, a um palmo debaixo d'água, ao contrário da Ofélia boiando criada por Olivier e repetida por Zeffirelli. Já no cemitério a cena é relativamente amorfa, calcada em Olivier até nos ângulos utilizados, e tem seu momento mais ou menos intenso quando Laerte, ao invés de abrir o caixão e abraçar Ofélia, se joga inteiro na cova reservada a ela. O filme perde um pouco a energia. Osric não tem graça, o monólogo do fall of a sparrow é dado às carreiras sem o menor sentimento e, mortos Gertrude e Cláudio, e estando ferido mortalmente, Hamlet não diz uma palavra. Encaminha-se lentamente para fora do castelo, recosta-se em um rochedo e no momento final diz, apenas, a Horácio, the rest is silence.
 |
| Mikhail Nazvanov e Elza Razidna, Yuri Tolubeyev e Vladimir Erenberg, Stepan Oleksenko e Viktor Kolpakov |
Smoktunovsky e Anastasiya em cena do filme e em encontro promocional na época do lançamento
Гамлет foi lançado em uma época em que as relações entre os Estados Unidos e a URSS estavam tensas, então o Oscar ignorou o filme. Mas ele foi indicado a um Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e a um Leão de Ouro em Veneza. Perdeu ambos, mas em Veneza ele recebeu o Prêmio Especial do Juri.
O filme recebeu elogios de Olivier e de atores como John Gielgud, e mais recentemente Kenneth Branagh, que qualificaram-no como um “Hamlet definitivo”. Bobagem. Os dois últimos fazem lembrar certos cineastas brasileiros que tinham tal inveja da Palma de Ouro ganha por Anselmo Duarte pelo Pagador de Promessas, que diziam ser a despretensiosa comédia Absolutamente Certo seu melhor filme, apenas pelo despeito de não terem jamais alcançado a competência e o sucesso de Anselmo com o Pagador. Em outras palavras, era mais confortável e politicamente correto elogiar Kozintsev do que admitir, simplesmente, que qualquer Hamlet que veio depois de 1948 tem o DNA de Olivier.
Este é um filme interessante de comentar, porque embora eu o tenha gravado em vídeo há vários anos, tendo-o assistido inúmeras vezes na época, eram pouquíssimas as lembranças que eu tinha, efetivamente, deste Hamlet. Na verdade admito que com o tempo acabei entrando na onda daqueles que descartam esta adaptação pura e simplesmente pela dantesca escolha do australiano Mel Gibson (1956) para o papel-título. Revendo-o agora, vejo que isso é um erro.
Há tietes de Zeffirelli (1923) que insistem em dizer que o diretor foi pressionado pelo estúdio a escolher um ator comercial para protagonizar o filme. Não é verdade. Primeiro porque a associação de estúdios que produziu o filme não tem qualquer nomeada e portanto nenhum cacife para impor o que quer que seja a um grande diretor como Zeffirelli. Acresce o fato de que o diretor é um tesouro nacional na Itália e o governo vai sempre lhe dar o dinheiro que ele quiser para produzir o que lhe der na telha; e segundo porque o italiano nunca se curvou diante de quaisquer convenções e é conhecido pela escolha personalíssima de seus protagonistas, sejam masculinos ou femininos. A verdade – pelo menos de acordo com entrevistas e programas, digamos, autorizados – é que Zeffirelli teria ficado impressionado com a cena inicial do primeiro Máquina Mortífera, em que o personagem de Mel Gibson quase se suicida com um tiro na boca, mas volta atrás na última hora. Esse teria sido o critério para a escolha do ator, e possivelmente um dos equívocos mais grosseiros da história do cinema na escolha de um protagonista.
Eu poderia resumir esta crítica dizendo apenas que o filme de Zeffirelli é talvez a melhor adaptação cinematográfica de Hamlet produzida até hoje... se pudéssemos excetuar Mel Gibson. Mas como é impossível avaliar Hamlet sem um Hamlet, Zeffirelli acaba prejudicado. Falemos de Gibson mais tarde.
O cenário é perfeito. O diretor filmou em locações na Inglaterra, Escócia, Itália e França, em três ou quatro castelos diferentes, em busca da melhor sensação de gigantismo medieval do castelo de Elsinore. A fotografia é brilhante; finalmente abandonou-se o preto e branco, que ressalta uma ou outra qualidade do cenário e do ambiente, mas esconde centenas de outras; o Hamlet de Zeffirelli tem de sobra aquilo que falta no de Olivier: a luz do dia. A música é de Enio Morricone, que não é bela como a de Wiliam Walton ou fundamental como a de Shostakovich, mas acompanha sem poluir, sem roubar a atenção do texto e da imagem. Os figurinos são ótimos e o roteiro adaptado de Zeffirelli e Christopher De Vore segue de perto a linha de Kozintsev, ou seja, de realizar uma obra abertamente cinematográfica, tendo a peça de Shakespeare como tema e enredo, e não como coluna vertebral. Com isso, as centenas de mudanças e de cortes são menos sentidas do que no caso de Olivier. As interpolações de texto também se tornam menos agressivas e em alguns casos funcionam divinamente, como na primeira cena do filme, que não é a aparição do fantasma, mas o velório do rei Hamlet, em que vemos Cláudio dizendo ao sobrinho enlutado algumas das falas que originalmente pertencem ao casamento dele com Gertrude.
Erros inexplicáveis: o desperdício de Pete Postlethwaite, um travecão no papel da rainha, a herança incestuosa de Olivier e um Osric macabro
Alguns equívocos, entretanto, mais do que imperdoáveis, são inexplicáveis. Por que Zeffirelli chama um ator tão competente como Pete Postlethwaite, apenas para cortar integralmente a cena em que ele faz o monólogo de Pirro? Na mesma área, não se explica o porquê do ator que faz a rainha na peça dentro da peça parecer um travecão, velho, feio e com voz grossa. Não tem sentido, já que no texto o próprio Hamlet checa com o ator, quando ele chega a Elsinore, se sua voz já deixou de ser fina, o que o desqualificaria para qualquer papel feminino. Horrendo também é o teor edipiano da relação entre Gertrude e Hamlet, porcaria que Zeffirelli herdou de Olivier e aumentou ao cubo. O beijo de língua dado por Glenn Close em Mel Gibson na cena da alcova com o pretexto de impedi-lo de seguir acusando-a teve provavelmente o objetivo de ser contundente e visceral; conseguiu ser apenas repulsivo. Outra coisa que me chocou foi a absoluta falta de graça no Osric de John McEnery. Ao invés de aproveitar a veia cômica de Mel Gibson – sua maior qualidade como ator – transformando o diálogo deles em uma apoteose cômica dentro da tragédia, e grande momento de Gibson em todo o filme, Zeffirelli criou um Osric sombrio e com expressão maquiavélica. O pouco que não foi cortado da cena teve um ar macabro de ameaça por parte de Osric que nada tem a ver com o texto.
O Cláudio definitivo
do inesquecível Alan Bates
Mas vamos aos atores. O saudoso Alan Bates (1934/2003) é o melhor Cláudio que já vi. Ponto. Derek Jacobi vêm num segundo lugar apertado, Basil Sidney corre por fora, mas Bates é imbatível. Tudo nele é excepcional, tudo nele funciona a favor do personagem. Que mistura extraordinária de voz, linguagem corporal e expressão nos olhos. Bates discursa, eloqüente, com o menor esgar. Fala sem abrir a boca, e quando abre, é o corpo todo que fala. É dramático quando deve ser, trágico quando necessário, cômico quando quer e até mesmo gaiato, brejeiro, em certas ocasiões, coisa que nenhum outro Cláudio cinematográfico conseguiu, ou sequer tentou. A maneira como se levanta e vai andando até o palco quando é desmascarado pela peça, soltando uma gargalhada nervosa, estomacal, dando uma volta em torno de si mesmo e gesticulando com o braço direito antes do give me some light, é antológica. Sua morte é a melhor de todos os Cláudios. O salto de Olivier é mais marcante, não resta dúvida, como também é sensacional ver Mikhail Nazvanov correndo pelo palácio, depois de ser trespassado pela espada do sobrinho, mas no que tange à reação de Cláudio, antes, durante e até mesmo depois de ser assassinado, Bates é incomparável.
 |
| A violentíssima morte de Cláudio |

Glenn Close: perfeita
É chato ser repetitivo, mas Glenn Close é a melhor Gertrude de todas. Ponto. É inacreditável, mas esse filme foi o primeiro contato que Close teve em sua vida com uma peça de Shakespeare. Por alguma razão, mesmo sendo experimentada e brilhante em qualquer veículo em que tenha trabalhado, seja o cinema, o teatro, a televisão e quiçá até o rádio, o bardo a eludiu. Não importa. Ela compensou por todos os trabalhos shakespearianos que não realizou com sua Gertrude. Close é um tipo de atriz tão intensa que chega a arrepiar. Só de ver a expressão que empresta à Gertrude na primeira cena, da mais tenebrosa tristeza, já sabemos que o que vem a seguir é um trabalho exemplar, de altíssima qualidade.
A Gertrude de Glenn Close: pela primeira vez, carinho
genuíno pelo filho
Com apenas nove anos a mais do que Gibson, e extremamente atraente com os 43 anos que tinha quando o filme foi feito, a relação maternal com Hamlet é defeituosa, mas seu amor é genuíno, é terno. Foi a primeira vez que vi demonstrado claramente o amor e o carinho de Gertrude pelo filho. Eileen Herlie e Elza Radzina fazem tentativas válidas, mas o amor parece ficar apenas na superfície. A Gertrude de Julie Christie não dá a mínima para o Hamlet de Kenneth Branagh. Glenn Close desliga a sensualidade de sua relação com Cláudio quando quer e se transforma na mãe mais carinhosa que existe, mesmo tendo que contracenar com um ator que jamais poderia ser seu filho.
O olhar fulminante, aterrado e aterrorizante de Gertrude quando descobre a vilania do marido
Da mesma forma, nunca houve um envenenamento tão apavorante quanto o dela, na cena final. Close bebe o vinho, sorrindo, sexy e bem-humorada. Quando o veneno faz efeito ela seca compulsivamente o suor do rosto, começa a transfigurar-se e chega ao ápice no arrepiante olhar que lança na direção de Cláudio. O olhar fulminante, aterrado e aterrorizante de Gertrude quando descobre a vilania do marido é muito mais eficiente do que o moto utilizado por Olivier, em que a rainha opta livremente por se matar. Mas para isso é preciso uma maravilha de atriz, que saiba transmitir tão profundo horror com um simples olhar, como Glenn Close.
A Ofélia brilhante
de Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter é uma grande Ofélia. Talvez não seja a melhor, mas seguramente é a mais original. Aos 24, com a voz grave que a caracteriza, ela não podia ser uma boneca de porcelana, e seja por criação sua ou por sugestão de Zeffirelli, ela fez uma Ofélia voluntariosa e sexualmente ativa. É mais uma aula para Kenneth Branagh, que arruinou a Ofélia de Kate Winslet. O que Branagh fez apelando, Zeffirelli fez sem um único desvio do texto, jogando tudo no talento da atriz. E assim como ocorre com Alan Bates e com Glenn Close, é um prazer supremo ver cada uma das cenas de Helena, e as reações que tem diante da loucura de Hamlet. Enquanto as Ofélias geralmente respondem com um misto de horror e comiseração, Helena mostra choque e tristeza com os olhos.
 |
| Em sentido horário: Stephen Dillane, Michael Maloney, Nathaniel Parker e Sean Murray |
Paul Scofield traz sua conhecida competência ao papel do fantasma, mas não estou totalmente de acordo com a abordagem dada ao personagem, que deixa de ser uma assustadora aparição sobrenatural para tornar-se um velhinho quase simpático (erro que Branagh jogou nas nuvens em seu filme). Ian Holm sempre foi um excelente ator e seu Polônio severo e disciplinador é de perfeita competência.
Ian Holm e Paul Scofield
Minha restrição é a um defeito do qual Holm não tem culpa: com os 59 anos que tinha na época, estava saudável demais para interpretar o velho parvo e moralista, que teve a filha tarde demais e não sabe como educá-la. Defeito diametralmente oposto ao de Felix Aylmer, Polônio de Olivier, que tinha os mesmos 59 anos mas parecia ter 80. Na minha concepção, Polônio é como Lear: precisa ter idade e aparência de velho, mas vitalidade suficiente para agir e reagir em momentos de maior intensidade. Nisso quem acaba se saindo melhor é Richard Briers, Polônio de Branagh, que tinha 62 anos, poderia tranqüilamente se passar por mais velho mas estava com a vitalidade e a força física em dia. Holm transmite muito bem a disparidade social entre sua família e a família real, mas não a vetustez de corpo e alma, os olhos purging thick amber and plum-tree gum e os most weak hams, que acredito serem características importantes do pai de Ofélia e Laerte. Pelo lado positivo, a Ofélia determinada e cheia de personalidade feita por Helena acaba sendo um contraponto coerente para o pai severo e temível. Nathaniel Parker é um Laerte amorfo, sem graça e não convence. É talvez a figura mais fraca de todo o elenco. A culpa não é inteira do ator, já que em nada ajuda o fato de que 90% das falas do personagem foram cortadas.
O to be or not to be, que ele poderia ter dado de forma naturalista, moderna – o que aliás não foi feito até hoje – funciona em parte. O monólogo é feito diante do sarcófago do pai, o que é uma boa idéia, tratando-se do que seria uma reflexão sobre o suicídio, e começa até bem, mas quando chega ao ay, there's the rub, perde-se. As falas passam a ser moduladas de acordo com as caretas de Gibson, e nunca pelo significado de cada verso. Pode-se dizer que o native hue of resolution is sicklied o'er pelos chacoalhões de cabeça de Gibson. A briga com Ofélia também constrange pela ausência de integração entre voz, sentimento e texto. Mesma coisa no cemitério; o coveiro perde a graça, a aparição de Hamlet não tem nada de dramático ou de surpreendente, a discussão com Laerte é o embate entre dois canastrões e só restam Alan Bates e Glenn Close tentando de forma infrutífera salvar aquilo que já está perdido.
Eu disse no início que é um erro descartar esta produção somente por ter um protagonista inferior e a razão não é apenas a excelência da produção e da maioria dos atores, mas porque Gibson tem bons momentos. São poucos, mas tem, e são momentos memoráveis. Sua interpretação do I have heard that guilty creatures sitting at the play (ato II, cena II) é crível e bem equilibrada. Porque pára com os berros, as chacoalhadas de cabeça e as caretas e concentra-se no que diz o texto, na descoberta do ardil para desmascarar o rei. O diálogo da flauta (ato III, cena II) que no texto original é com Guldenstern e no filme é com Rosencrantz é outro dado finalmente com a intenção correta, da ironia que vai à indignação, em que Hamlet por alguns segundos deixa entrever seu total domínio mental (embora lamente-se o corte impiedoso do diálogo com Polônio sobre o formato da nuvem), mas o melhor momento de Gibson, e talvez o melhor de todo o filme, com uma ou outra exceção, é a cena da apresentação do Assassinato de Gonzago.
Com uma expressão que mistura melancolia, ironia e demência, ele encara a moça e depois de alguns segundos diz get thee to a nunnery, não com o tom acintoso e agressivo de todos os outros Hamlets, mas como um verdadeiro conselho, uma auto-crítica que vem acompanhada com a pergunta que se torna, por fim, coerente: why shoudst thou be a breeder of sinners? A ação prossegue com o rei descorçoando, e passado o ápice ele volta à Ofélia e arremata: Believe none of us. We are arrant knaves, all. To a nunnery, go, and quickly too, seguido de um beijo forçado. Uma maravilha de criação, onde adapta-se e interpola-se o texto, dado com a intenção exata, sem contenções e sem exageros. E tendo o silêncio impecável, perfeito de Helena Bonham Carter, por cuja expressão passa um universo inteiro, que transborda apenas em suas lágrimas, sem que ela diga uma única palavra.
O Hamlet de Zeffirelli e Mel Gibson teve a acolhida que se esperava: multidões de jovens lotaram os cinemas para conhecer a tragédia mais famosa do bardo, interpretada, finalmente, por um famoso ator hollywoodiano. Os puristas torceram o nariz e não permitiram sequer a inclusão do filme em discussões sobre o assunto. Não há como concluir sem utilizar outra frase que resume a sensação geral: “Que pena que Zeffirelli não escolheu um protagonista melhor para este grande filme”. A Academia passou reto por Alan Bates, Glenn Close e Helena Bonham Carter, injustiça criminosa, considerando que figuras como Kevin Costner, Julia Roberts e Annette Bening receberam indicações, mas Hamlet foi indicado para melhor Direção de Arte e Melhor Figurino. Perdeu nas duas categorias.
 |
| Kenneth Branagh em 1984, aos 24 anos, no papel de Laerte em montagem da RSC |
A ligação do irlandês Kenneth Branagh (1960) com Hamlet começou, efetivamente, no fim da década de 70, quando ele assistiu a montagem que trazia o inglês Derek Jacobi (1938) como protagonista. A impressão causada pelo Hamlet sensível e emocional de Jacobi foi suficiente para que o jovem Branagh passasse a acalentar, com apenas 19 anos, o sonho de encenar a tragédia do príncipe dinamarquês. Depois de uma rápida associação com a RADA (Royal Academy of Dramatic Art) onde teve seu início profissional, Branagh foi para a RSC (Royal Shakespeare Company). Lá, em 1984 foi escalado para interpretar Laerte no Hamlet que trazia Roger Rees como protagonista. No papel de Cláudio estava Brian Blessed e no de Horácio estava Nicholas Farrel, ambos mais tarde atores de praticamente todos os filmes shakespearianos de Branagh. O resto do elenco incluía Virginia McKenna (Gertrude), Frances Barber (Ofélia) e Frank Middlemass (Polônio).
Um detalhe extremamente curioso e divertido é que o diretor dessa montagem, em que Branagh teve seu primeiro contato Hamlet no palco, foi o brasileiro Ronaldo Daniel, co-fundador do Teatro Oficina e que na década de 70 foi para a Inglaterra fazer teatro, mudando seu nome para Ron Daniels. "Um instinto impressionante, técnica, inteligência (...), além de ser imensamente carismático”, foram algumas das qualidades de Branagh apontadas por Daniels, tempos depois.
No mesmo ano protagonizou o Henrique V mais jovem de toda a história da RSC e foi se popularizando como um dos melhores atores da nova geração. Em 1987 ele deixou a companhia e fundou, junto a um amigo, a RTC, Renaissance Theater Company. Gozando de prestígio no meio artístico e sobretudo entre grandes atores shakespearianos, chamou ninguém menos do que seu ídolo Derek Jacobi e a atriz Judi Dench para dirigir os espetáculos do grupo.
 |
| O Hamlet de Branagh em 1988 |
Hamlet (Branagh) e Ofélia
(Sophie Thompson), em 1988
Ele não teve tempo para remoer sua insatisfação com Hamlet porque em 1989 o sucesso e a aclamação mundial lhe sorriram quando levou Henrique V às telas, na primeira adaptação do clássico desde o lendário filme de Olivier, lançado em 1945. No elenco, atores como Brian Blessed, Richard Briers, Michael Maloney e a esposa Emma Thompson, todos integrantes do que seria quase uma “companhia estável de cinema”, para o ator. O filme teve três indicações ao Oscar, sendo duas para o próprio Branagh, Melhor Ator e Melhor Diretor. Perdeu em ambas mas Phillys Dalton levou para casa a estatueta de Melhor Figurino. Branagh tornou-se o ator shakespeariano mais conhecido do mundo e teve que agüentar o epíteto de “o novo Olivier”, com o qual foi marcado a ferro. Se isso de certa forma era uma honra (Olivier morreu meses depois do lançamento desse Henrique nos cinemas), era também uma descaracterização de seu próprio trabalho, colocando-o não como o primeiro ator e diretor de uma nova dinastia shakespeariana, mas como o segundo de uma que já existia.
 |
| O Henrique V de Branagh no cinema |
John Gielgud, Branagh e Derek Jacobi no Hamlet radiofônico da RTC e BBC
Enquanto dava seqüência ao grande sucesso de Henrique V com um filme medíocre – Dead Again – e outro horroroso – Peter’s Friend – Branagh voltou a Hamlet em 1992, em uma associação entre a RTC e a BBC, dirigindo e protagonizando uma adaptação da tragédia para o rádio. Passados quatro anos desde seu Hamlet frustrado, ele reuniu um elenco estelar, que contava com John Gielgud (fantasma), seu mestre Derek Jacobi (Cláudio), Judi Dench (Gertrude), Michael Williams (marido de Judi Dench e 25 anos mais velho do que Branagh, no papel de Horácio), Emma Thompson interpretando a atriz principal da trupe de atores que visita Elsinore, Richard Briers (Polônio), Sophie Thompson reprisando o papel de Ofélia, e James Wilby (Laerte). A transmissão, na qual a peça foi encenada em sua íntegra – fato que Branagh utilizaria quase como mote de sua produção cinematográfica de 1996 – foi bem recebida e lançada em CD pouco depois. Ouvi esse Hamlet recentemente e fiquei decepcionado.
No fim de 1992 Branagh voltou temporariamente à RSC para sua tentativa definitiva de Hamlet no palco, com direção de Adrian Noble, que já dirigira seu vitorioso Henrique V de 1984.
A peça retirou Hamlet e a côrte dinamarquesa da Idade Média e trouxe-os para a Inglaterra “edwardiana” (referência ao período em que Edward VII foi rei, no início do século XX). Aboliram-se os cenários sombrios e substituíram-se as camisas brancas folgadas e meias-calças por ternos e trajes mais contemporâneos. No elenco, John Shrapnel (Cláudio), Jane Lapotaire (Gertrude), Joanne Pearce (Ofélia), David Bradley (o macabro Argus Filch dos filmes de Harry Portter, no papel de Polônio), Rob Edwards (Horácio) e Richard Bonneville (Laerte). Segundo Mark Cassello, “muitas pessoas acharam que esta peça parecia ser de Tchekhov ou Ibsen por conta de sua ênfase na destruição da família”. As críticas, entretanto, foram positivas e todas traçavam um paralelo com a montagem precoce de 1988. O Daily Mail rasga elogios, na mesma medida em que faz troça com uma das mais célebres características fisionômicas do ator: “A cara de bolacha de sua juventude agora tem um peso de comando. A voz pode ecoar até os céus ou levar-nos até os mais recônditos pensamentos de sua silenciosa confidência”.
Hamlet, em 1992, com a Ofélia de Joanne Pearce e o Polônio de David Bradley
O Daily Telegraph seguiu a mesma linha: “Kenneth Branagh tem a melhor performance de sua carreira como Hamlet (..). Branagh captura lindamente momentos súbitos de tristeza da alma, mas há humor e calidez maravilhosos, assim como dardos de crueldade, ironia e violência emocional. Contudo, mesmo em seus momentos mais negros, Hamlet jamais perde a solidariedade do público”. Pelo lado menos laudatório, ressalta-se a crítica do Independent, que elogia o espetáculo mas acusa Branagh (e o resto do elenco) de over-acting, e o Guardian, que afirma ser este Hamlet uma performance “infinitamente mais rica e mais madura do que aquele dada por ele há quatro anos pela Renaissance. Mas isso é porque ela cresce graças a uma produção altamente original de Adrian Noble”. Em tudo e por tudo, a montagem foi um sucesso e segundo se diz por aí, uma das maiores – senão a maior – bilheteria da RSC em toda sua história.
Concomitante ao êxito dos dois Hamlets de 1992 (a montagem de Noble seguiu pelo início de 93), Branagh teve a chance de esquecer seus últimos filmes – fracassos de público e crítica – e retornar à sua seara, transformando pela primeira vez em filme a peça Much Ado about Nothing, que também encenara com a RTC em 1988, sob a batuta de Judi Dench.
Levou toda sua patota – Brian Blessed, Richard Briers, Emma Thompson – chamou a iniciante Kate Beckinsale e deu um passo arriscado, misturando-os com atores hollywoodianos sem qualquer tradição teatral ou shakespeariana, como Denzel Washington, Michael Keaton e Robert Sean Leonard, e até mesmo o notório canastrão Keanu Reaves. O resultado agradou em cheio e a despeito da escalação esdrúxula do elenco, Much Ado about Nothing foi um sucesso de crítica e especialmente de bilheteria a partir de sua estréia, em maio de 1993, arrecadando quase o triplo dos oito parcos milhões de dólares que custou. Rei da cocada preta, rico, famoso e respeitado, o ego explodindo, Branagh não precisou nem sair de casa para levantar os quase 50 milhões de dólares que injetou em seu próximo filme: uma adaptação do livro Frankenstein, de Mary Shelley.
Era o primeiro trabalho de Branagh com um grande estúdio norte-americano e ele chamou Robert De Niro para o papel do monstro e Helena Bonham Carter para interpretar Elizabeth, a protagonista feminina. A ausência de Emma Thompson (que sequer mencionou Branagh no discurso com o qual aceitou o Oscar de melhor atriz por Howard’s End, em março de 93) sinalizou que o casamento dos dois chegara ao fim.
Não vale a pena registrar aqui a comédia de erros que foi o Frankenstein de Branagh. Basta dizer que a única coisa maior do que o orçamento do filme ou a estratosférica campanha publicitária lançada pelo estúdio antes mesmo da câmera começar a rodar, foi a vaidade de Branagh. Ingênuo e pretensioso, o filme é um espetáculo visual inteiramente vazio e uma ode ridícula e megalomaníaca ao corpo recém-malhado do ator e aos seus penteados recém-saídos do cabeleireiro, mesmo quando ele está no meio da neve há dias sem tomar banho.
Cena de Frankenstein, em que Branagh contracena com Helena Bonham Carter,
com quem se casou na vida real
Frankenstein está para Branagh assim como Ricardo III estava para Olivier; da mesma forma que Olivier perdeu o controle sobre sua vaidade e estragou seu Ricardo de 1955, para o qual conseguiu rios de dinheiro, Branagh produziu um elefante branco que no fim das contas não agradou ninguém. Estreou em novembro de 1994 e foi um desastre retumbante, não arrecadando nem metade do que gastou. Quando Ricardo III fracassou nas bilheterias, Olivier perdeu o financiamento para filmar seu Macbeth com Vivien Leigh. No caso de Branagh a punição não foi tão severa: as portas dos estúdios norte-americanos, que estavam escancaradas para ele, se fecharam. Mas ele passaria o ano de 1995 correndo atrás do prejuízo.
Iago, no Othello de Olivier Parker, 1995
O primeiro passo foi resguardar seu prestígio de ator shakespeariano e aceitar o papel de Iago no Othello de Oliver Parker, com Lawrence Fishburne no papel-título. Alcançou o objetivo: sem dirigir, e portanto sem poder dar vazão aos delírios de seu ego hipertrofiado, Branagh nos dá talvez o melhor Iago de todos os tempos. Recebeu uma indicação ao Oscar, que merecia ter vencido. Mas Branagh, como sempre, mistura um passo na direção certa com dois para trás. No mesmo ano, ao invés de aceitar as inúmeras e generosas ofertas que recebeu, graças a Othello, para atuar em outros projetos, encasquetou de querer dirigir um filme com história e roteiro criados por ele, chamado A Midwinter’s Tale, sobre uma companhia pobre de teatro que quer montar Hamlet em uma cidade no interior da Inglaterra. Sem apoio dos estúdios ingleses, ele colocou um milhão e meio de dólares de seu próprio bolso na produção e reuniu seus amigos Richard Briers, Nicholas Farrel e Michael Maloney (os dois últimos seus colegas também em Othello). Deveria ter aprendido com a lição de Dead Again e Peter’s Friend; o filme foi um fracasso. Mas foi um fracasso sobre o qual ninguém ficou sabendo e que talvez tenha reacendido a chama de sua ambição de montar Hamlet no cinema, porque em 1996 ele voltou aos Estados Unidos a fim de conseguir dinheiro para o projeto.
Hollywood continuava a mesma de 60 anos antes: Shakespeare é ótimo, mas reduza-se o texto a 1/3 de sua duração original. Só que a idéia de Branagh era exatamente o oposto; queria montar Hamlet na íntegra, como na transmissão de rádio da RTC/BBC. Depois de muita negociação, conseguiu espremer 18 milhões de dólares da Castle Rock Entertainment e partiu para a produção. Aproveitou o elenco gigante para encher o filme de atores que nada tinham a ver com Shakespeare, e talvez por isso despertariam a curiosidade do público, como já fizera em Much Ado about Nothing. Só que desta vez foi além. Para os personagens principais escolheu Derek Jacobi, reprisando o Cláudio que já fizera com o pupilo, no rádio, Julie Christie (Gertrude), Kate Winslet no papel de Ofélia, uma vez que sua agora esposa Helena Bonham Carter já queimara esse cartucho no Hamlet de Zeffirelli, Richard Briers voltando ao Polônio que também fez no rádio, Timothy Spall como Rosencrantz, Rosemary Harris como a primeira atriz da companhia de atores dentro da peça, Rufus Sewell como Fortinbrás e os velhos colegas de sempre, Nicholas Farrel (Horácio), Michael Maloney (Laerte) e Brian Blessed (Fantasma).
Jack Lemmon, Gerard Depardieu, Charlton Heston, John Gielgud, Judi Dench, Billy Cristal, Richard Atenborough e Robin Williams
Mas é no chamado “elenco de apoio” que estão as escolhas mais excêntricas de Branagh. E há que admitir que todas elas foram bem-sucedidas. Jack Lemmon – absolutamente brilhante – faz o guarda Marcellus, presente nas primeiras cenas; Gerard Depardieu – apagado como seu personagem, dizendo apenas “yes, my lord” para tudo – faz Reinaldo, contratado por Polônio para espionar Laerte na França; Charlton Heston – excelente, revelando o melhor da veia shakespeariana que sempre teve e poucas vezes pôde aproveitar – é o ator principal da companhia de teatro que se apresenta na côrte; John Gielgud e Judi Dench – cameos de luxo, porque aparecem menos de 10 segundos cada – são Príamo e Hécuba, e ilustram o monólogo de Heston, na chegada dos atores; Billy Cristal – surpreendentemente cômico e competente, não tropeçando jamais no difícil texto de seu personagem – faz um dos coveiros e Robin Williams está simplesmente impagável como o waterfly Osric, que não recebia uma interpretação à altura do humor sutil e aparvalhado de suas falas e de sua presença ridícula desde o bom Peter Cushing, no Hamlet de Olivier. Até o velho Richard Atenborough agrada no curtíssimo papel do embaixador inglês que aparece no fim para avisar que Rosencrantz e Guildenstern foram mortos.
 |
| O Hamlet de Jacobi |
 |
| Influências do Hamlet de Derek Jacobi: a máscara de caveira e a busca incessante nos armários |
 |
| Jacobi, Julie Christie, Kate Winslet, Richard Briers, Timothy Spall, Rosemary Harris, Michael Maloney e Nicholas Farrel |
Brian Blessed e Kate Winslet:
lentes de farmácia e exagero
O Polônio de Briers tem o jeito daquele velho idiota que é moralista na frente dos filhos mas sai agarrando as empregadas e beliscando mulheres por baixo de mesas a fim de lembrar-se de sua juventude, agora que não pode mais fazer nada. Nicholas Farrel se esforça bastante para retratar a bonomia e a humildade imprescindíveis ao bom e fiel Horácio. Michael Maloney, tão competente em papéis como o de Rosencrantz ou de Roderigo, está over como Laerte; parece dois ou três tons acima do que seria necessário, na fúria de sua volta a Elsinore. Ainda assim, é o melhor dos Laertes cinematográficos.
Há soluções em que Branagh é extremamente engenhoso, mas acaba estragando, seja pela vaidade, seja pelo exagero. Filmar Hamlet dizendo cara-a-cara à Ofélia o texto da carta que lhe mandou (ato II, cena II) é uma grande sacada; mostrá-lo em cenas gráficas de sexo com ela é inútil e apelativo (mesmo erro cometido em suas cenas ridículas de sexo com Helena Bonham Carter em Frankenstein). Da mesma forma, é boba e sem sentido a maneira como se estraga a fala for if the sun breed maggots in a dead dog, being a god kissing carrion, dando-a de forma humorística, já que tem sua conclusão – uma inominável ofensa à Ofélia e às mulheres – na fala seguinte.
Hamlet: "Except my life..."
Só que Branagh se redime logo depois, quando diz you cannot, sir, take from me any thing that I will more willingly part withal, chegando a emocionar com as três impostações diferentes com que diz except my life, except my life, except my life. A chegada subseqüente de Rosencrantz e Guildenstern em um trenzinho também foi uma tirada genial. Prossegue num ritmo bom com a chegada dos atores (embora a voz de Branagh derrape feio no fim do monólogo de Pirro), tem um ponto altíssimo no God's bodykins, man, much better: use every man after his desert, and who should 'scape whipping? Use them after your own honour and dignity: the less they deserve, the more merit is in your bounty, dito pela primeira vez com a intenção certa de reprimenda, que fugiu a todos os Hamlets anteriores, e descamba quando ele se vê só e dá o monólogo what a rogue and peasant slave am I, que começa com o príncipe resfolegando, como se tivesse estado antes em intensa atividade física, e prossegue aos gritos.
 |
| O trenzinho hilário de Rosencrantz e Guildenstern |

Richard Briers: o melhor de todos os Polônios
A limitação vocal de Branagh, por sinal, é um dos obstáculos mais sérios do filme, como já o fôra no Henrique V de 1989. Incapaz de variar sua modulação ele parte para o exagero puro e simples; a cena do get thee to a nunnery ele começa bem, num diálogo naturalista entre Hamlet e Ofélia, em que o príncipe se mostra saudoso da moça. Um barulho qualquer feito acidentalmente por Polônio e Cláudio, escondidos, desencadeia a fúria de Hamlet (artifício bastante conhecido no teatro, mas até então ainda não utilizado no cinema). Olivier voou pelo cenário, utilizando as falas como um facão afiadíssimo com o qual fatiou Ofélia em dez pedaços sem sequer tocá-la. Branagh está mais para Mel Gibson; começa uma gritaria sem fim, enquanto arrasta Kate Winslet burocraticamente pela porta dos armários, e nisso se perde completamente o sentido do que diz, sobretudo o maravilhoso trecho do I have heard of your paintings too, well enough.
 |
| Aos gritos, no teatrinho montado em Elsinore |
Outra cena feito toda aos gritos é a da apresentação da companhia em Elsinore. Ele grita com Ofélia, grita com Gertrude, grita com Cláudio, e quando o rei se retira ele grita com Rosencrantz e Guildentern. Monólogos sofrem pela ausência de modulação, como o da partida de Hamlet (ato IV, cena IV), em que a câmera se afasta lentamente diante do falatório amorfo do príncipe; efeito mínimo, sentido zero. As falas também são dadas de forma atropelada e mecânica, aqui e ali, tal é a familiaridade do ator com o texto da peça. Antes de conversar com o fantasma Branagh falou em off, com voz de detetive de filme dos anos 40, como se recitasse um relatório policial. Mesma coisa: efeito mínimo, sentido zero. Na cena de Osric, Branagh praticamente despeja a fala inteira do Sir, his definement suffers no perdition in you. Derek Jacobi tem tanto conhecimento ou mais do texto, e no entanto trabalhou cada fala no sentido de torná-la mais significativa; Branagh fala como se estivesse em um concurso de quem melhor decorou o texto.
No teatro, por exemplo, depois da saída do rei, há uma das melhores cenas em que um ator pode explorar a loucura de Hamlet de forma cômica, graças aos dois amigos idiotas chamados para pajear e espionar o príncipe. Branagh começa – embora com invejável dicção – a cuspir com a rapidez de um locutor de futebol as falas de sua conversa com Rosencrantz e Guildentern, misturando-as com voz de criança em but, sir, such answer as I can make, you shall command; or, rather, as you say, my mother: therefore no more, but to the matter: my mother, you say. Depois vem a gritaria em que Hamlet acusa Guildenstern de querer tocá-lo como uma flauta e – benditos paradoxos de Branagh – o fim da cena é perfeita com o diálogo em que Hamlet sabatina Polônio sobre a suposta nuvem em formato de animais diferentes.
A cena da esgrima é razoável (embora não haja qualquer beleza no duelo, como ocorre no filme de Olivier e em geral nos velhos filmes de capa-espada) mas Branagh quis superar o salto de Olivier inventando a morte do rei espremido por um lustre. Não conseguiu. Também quis repetir Zeffirelli despejando o vinho com os dedos na boca do rei. Não chocou. A invasão do exército de Fortinbrás também tem mais de Branagh do que de realidade, e tanto na trilha óbvia que a acompanha quanto em soldados entrando e espatifando vidraças, a cena faz lembrar o soldado que matou todo mundo em um casamento, num dos filmes do Monty Python. A conclusão é capenga, com Hamlet sendo carregado com a cabeça pendendo de olhos abertos, como se ninguém ali fosse ter a cortesia de fechar os olhos do defunto. Não emociona como Olivier, não impressiona como Kozintsev.
A academia foi ainda mais cruel com Branagh do que foi com Zeffirelli, seis anos antes . Esse Hamlet recebeu quatro indicações ao Oscar e não ganhou nenhum: Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora e Melhor Roteiro Adaptado para Branagh. Só que essa indicação foi uma humilhação, porque ninguém esperava que Mel Gibson por exemplo, fosse indicado para Melhor Ator, ou que o filme de Branagh recebesse indicações para Melhor Filme ou Direção. Mas se esperava, seguramente, que Branagh pelo menos recebesse uma indicação para Melhor Ator. Não recebeu, e isso em um ano em que Tom Cruise e Woody Harrelson foram indicados. Tempos depois Branagh disse o seguinte, sobre o filme: “Este pode não ser o Hamlet definitivo, mas as meias-calças foram penduradas e as camisas brancas e bufantes estão no armário para nunca mais serem vistas. É uma sensação boa”.
Se tivesse pensando menos em roupas, cenários, em parecer diferente de seus antecessores, e mais em Shakespeare, talvez tivesse feito um filme melhor. Como diria Gertrude, more matter, with less art. Ou, como diria, ainda, o próprio Hamlet ao defunto de Polônio, thou find'st to be too busy is some danger.
____________________________________
Ver também:
____________________________________
Ver também:










































































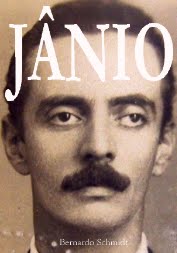















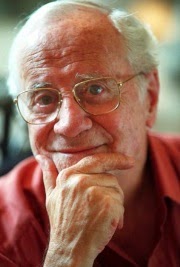















Bernardo, que maravilha esse seu blog. Parabéns. Trabalhos como o seu justificam a Internet. Colocam-nos diante do mundo mágico do teatro e do cinema, resgatam nossa infância vivida com pais que amavam teatro, ensinam, ilustram, informam.
ResponderExcluirBjsss
Eliana Caminada
Nossa...É uma análise realmente exemplar.
ResponderExcluirParabéns pelo trabalho :)
É bom conhecer outras pessoas no nosso país que compartilham da cultura.
Bjoos
Can't make out all of this article....but it is a finely researched work.
ResponderExcluir